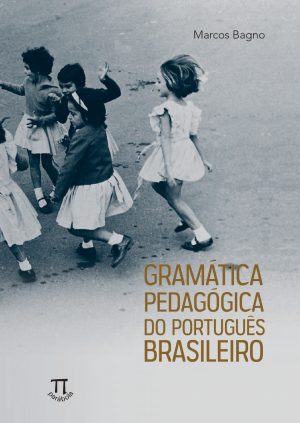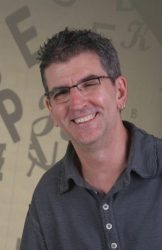Título completo: Gramática pedagógica do português brasileiro
Local de publicação: São Paulo/Brasil
Quantidade de edições: 2?
Editora: Parábola Editorial
Gramática descritiva
- “é uma gramática, na medida em que pretende examinar e descrever o funcionamento de uma língua específica, o português brasileiro contemporâneo. Esse exame-descrição, no entanto, não é exaustivo, pois o mais importante nesse projeto é destacar as especificidades da nossa língua, as que tornam ela diferente das outras línguas de seu grupo […] e também das demais línguas da família românica;”. (p. 13 – 14)
- “é um projeto epistemológico porque traz explícita uma teoria do conhecimento, destinada a fundamentar os posicionamentos francamente assumidos ao longo de todo o texto”. (p. 14)
Gramática teórica
- “não se limita a descrever ou a expor o português brasileiro, mas propõe efetivamente a plena aceitação de novas regras gramaticais que já pertencem à nossa língua há muito tempo e, por isso, devem fazer parte do ensino sistemático da língua. Ela formula um “discurso herético”, no sentido conferido à expressão por Pierre Bourdieu no trecho que lhe serve de epígrafe;”. (p.14)
- “é teórica na medida em que discute, refuta ou abraça propostas anteriores de descrição da língua e em que propõe novas análises, definições e conceitos”. (p. 14).
Gramática histórica
- é histórica porque rejeita a tradicional separação entre diacronia e sincronia e assume o fenômeno linguístico como eminentemente pancrônico, variável e mutante. Desse modo, o recurso às transformações ocorridas na(s) língua(s) ao longo do tempo é indispensável para o (re)conhecimento preciso do que ocorre aqui e agora.”. (p. 14)
- “Nessa gramática, vamos comparar sempre o vgb (vernáculo geral brasileiro) com a tgp (tradição gramatical do português), dando sempre ênfase e prioridade político-pedagógica ao vgb. Com isso, estamos assumindo a postura, igualmente política, de legitimar no ensino os usos mais difundidos no vgb, de forma a abandonar a arcaica separação entre “certo” e “errado””. (p. 33)
Gramática pedagógica
- é pedagógica, porque foi pensada para colaborar com a formação docente que, no Brasil, é reconhecidamente falha e precária. Nossos cursos de Letras (a começar pelo nome) se vinculam a um ideário cultural obsoleto, enraizado na sociedade burguesa do século XIX. Por isso, eles deixam de oferecer aos estudantes uma série de conhecimentos fundamentais enquanto, por outro lado, desperdiçam tempo com a transmissão de conteúdos irrelevantes para quem vai exercer a profissão docente. Basta perguntar a professoras e professores na ativa ou em formação se sabem, por exemplo, o que é gramaticalização ou se ao menos já ouviram falar disso (p. 14)
OBJETIVOS DO AUTOR
- “essa obra milita a favor do reconhecimento do português brasileiro como uma língua plena, autônoma, que deve se orientar por seus próprios princípios de funcionamento e não por uma tradição gramatical voltada exclusivamente para o português europeu literário antigo. Essa militância se traduz no emprego consciente de formas linguísticas há muito tempo incorporadas à gramática do português brasileiro, mas que ainda são alvo da perseguição dos puristas mais empedernidos. Por isso, ninguém se assuste ao topar com construções do tipo “nos grupos que fazemos parte”, ou “tem muitos problemas nessa descrição”, ou “tendo transformado ela numa regra”, ou “não se conhece as origens exatas dessas palavras”, entre outras;”. (p. 14).
- essa gramática não é uma descrição exaustiva e detalhada do PB [português brasileiro], mas uma exposição daquilo que constitui conhecimentos necessários para um trabalho relevante e construtivo de educação linguística. Sendo a primeira gramática propositiva de uma pedagogia do português brasileiro — no sentido de se dirigir especificamente à prática docente —, nela vou me concentrar nos aspectos mais relevantes para que professoras e professores se conscientizem dos principais traços característicos do PB [português brasileiro], conscientização indispensável para quem se ocupa da educação linguística hoje no Brasil.”. (p. 21)
- “Aqui a professora e o professor vão encontrar a descrição de aspectos essenciais da gramática do português brasileiro, com vasta exemplificação de usos autênticos contemporâneos, junto com propostas de atividades práticas para levar seus aprendizes a conhecer melhor o funcionamento da língua que falam e escrevem e para se apoderar do que é um português brasileiro contemporâneo urbano culto, que nada tem que ver com o modelo muito idealizado de “língua certa” que as gramáticas prescritivas, os livros didáticos e os meios de comunicação (através do que chamo de comandos paragramaticais) ainda insistem em divulgar, sem se dar conta de que aquela há muito tempo já deixou de ser a língua da maioria dos brasileiros, incluindo os da elite mais letrada, para não falar da nossa melhor literatura contemporânea.”. (sic, p. 26)
CONCEPÇÃO DE LÍNGUA, NORMA E GRAMÁTICA
Língua:
- “rejeita a tradicional separação entre diacronia e sincronia e assume o fenômeno linguístico como eminentemente pancrônico, variável e mutante. Desse modo, o recurso às transformações ocorridas na(s) língua(s) ao longo do tempo é indispensável para o (re)conhecimento preciso do que ocorre aqui e agora.”. (p. 14)
- “só existe língua se existirem falantes dessa língua, ou seja, só existe língua em uso, a prática da linguagem como atividade constitutiva da própria natureza humana (natureza cognitiva e sociocultural) é que ditará os rumos da gramática da língua, num processo cíclico e permanente, que só se interrompe quando e se deixarem de existir falantes da língua.”. (p. 20)
Gramática
- “é uma gramática, na medida em que pretende examinar e descrever o funcionamento de uma língua específica, o português brasileiro contemporâneo. Esse exame-descrição, no entanto, não é exaustivo, pois o mais importante nesse projeto é destacar as especificidades da nossa língua, as que tornam ela diferente das outras línguas de seu grupo (o portugalego, ver capítulo 4) e também das demais línguas da família românica;”. (p. 13 – 14)
Norma
- “na prática social mais ampla discurso e sistema (ou uso e gramática) interagem sem cessar, são indissociáveis, tanto quanto o oxigênio e o hidrogênio da água: são os usos frequentes e regulares de determinada forma linguística que acabam por transformá-la em regra gramatical, assim como são as regras gramaticais as condicionadoras dos usos linguísticos”. (p. 20)
- “assumir como válido, aceitável e correto todo e qualquer uso linguístico que já esteja plenamente incorporado ao vernáculo geral brasileiro [υ108], falado e escrito, conforme uma vasta exemplificação da língua viva que nos esforçamos aqui em apresentar; assumir, graças ao conhecimento desse vernáculo geral, a existência de uma norma urbana culta real, radicalmente distinta da norma-padrão clássica, ideal, prescritiva e totalmente desvinculada dos usos autênticos do PB; postular que o ensino de língua se faça com base nessa norma urbana culta real, de modo a facilitar sua aquisição por parte dos aprendizes provindos das camadas sociais usuárias de outras variedades sociolinguísticas; embora exista uma distância entre essas variedades e a norma urbana culta real, ela é muito menor do que a que existe entre essas variedades e a norma-padrão clássica, na qual nem mesmo os cidadãos urbanos mais letrados se reconhecem.”. (p. 21)
- “O que se entende por norma-padrão, nos estudos mais recentes sobre variação linguística e ensino, é o modelo de língua descrito-prescrito pela tradição gramatical, uma língua extremamente idealizada, construída com base nos usos de um grupo não muito amplo de escritores e, mesmo assim, não de todos esses usos, mas só daqueles que o próprio gramático considera exemplares ou recomendáveis. Essa norma-padrão — escrita, literária e obsoleta — é, por isso mesmo, repleta de arcaísmos, de fósseis linguísticos, de regras que vão contra a intuição gramatical de qualquer falante da língua. Como se não bastasse, ela é inevitavelmente anacrônica, porque recorre a um cânone literário do passado, de modo que nem sequer na literatura viva, contemporânea, é possível reconhecer o uso integral do que ela prescreve.”. (p. 31)
ESTADO DA ARTE
- ANJOS, M. A. L. dos; OLIVEIRA, M. S. Por que o português não veio do latim?: uma análise historiográfica da Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. Revista do GEL, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 61–84, 2018. Disponível em: https://revistadogel.emnuvens.com.br/rg/article/view/2126. Acesso em: 07 jul 2024.
- DE ARAUJO, Leandro Silveira. Por uma descrição da tipologia da gramática em línguas românicas. Revista X, v. 15, n. 7, p. 232-271, 2020. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/Leandro-Araujo-15/publication/348062496_Por_uma_descricao_da_tipologia_da_gramatica_em_linguas_romanicas/links/5fedfbc592851c13fedb3734/Por-uma-descricao-da-tipologia-da-gramatica-em-linguas-romanicas.pdf >. Acesso em: 07 jul 2024.
- DE SOUZA, Adilio Junior. O preconceito linguístico em debate: quais gramáticas descritivas usar?. 2016. Disponível em: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/67727931/O_preconceito_linguistico_em_debate-libre.pdf?1624508880=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DO_preconceito_linguistico_em_debate_quai.pdf&Expires=1721599915&Signature=f7g0HPsedQLcyPaDnfHpcfPUwZU5JCcMKLiDGf0OGQLmL3bPrXD8HQ0Ub4w81vjABMYLI5MNZwdENb6dikMqO42kfTl3OicuZjf0sInUNchtOS2yO4l8hCUqFqR3K7GIYYBux0t941VySHOdeER0IC5jGA1shntWSqDg25gq4PuykZgNNFTAIVb86tvc8LpZn5LHwSU8H17~HZZZBHaePWK-o1rk0YAt6f6hEEil7km5vuiwwqkvozmX4xW2aIbKY~iwc7HV8w3k8lHSzLKHxoIEsFTTXUMcvN4-c5DwGcu4M6OyAR0E4Ub7MkSY85gSvR3qTI~PIpP51BkBFIRP-w__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 07 jul 2024.
- MARTINS, M. A. Em defesa do ensino de gramática na escola. Revista do GELNE, [S. l.], v. 19, n. 1, p. 103–117, 2017. Disponível em: https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/12117. Acesso em: 07 jul 2024.
- MOTA, Nahendi Almeida; CERQUEIRA, Ingrid Bomfim; DE AZEVEDO, Isabel Cristina Michelan. Gramatização do português brasileiro nos séculos XIX e XX e início do século XXI. Entrepalavras, v. 7, n. 2, p. 552-567, 2017. Disponível em: http://www.entrepalavras.ufc.br/revista/index.php/Revista/article/view/886 . Acesso: 07 jul 2024.
- RODRIGUES, Euda Alves. A colocação pronominal no português brasileiro: uma análise com base em videoaulas do Youtube. 2020. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/12115 >. Acesso em: 07 jul 2024.
REFERÊNCIA:
BAGNO, Marcos. Gramática pedagógica do português brasileiro. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.